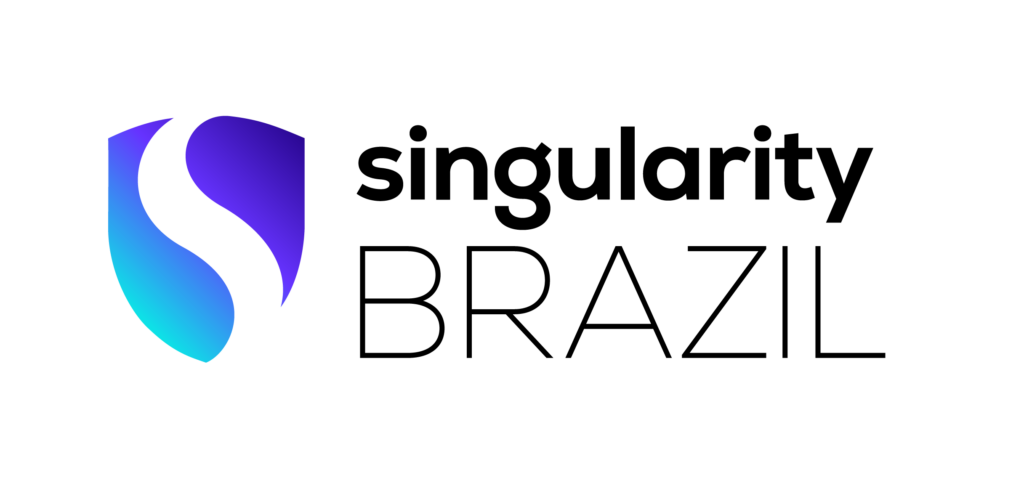Por Renata Horta – Diretora de Crescimento da Troposlab
A inovação não se sustenta somente em novas tecnologias, o gestor de inovação deve estar atento às tendências comportamentais que aceleram ou não sua adoção, assim como ao processo comportamental de apropriação tecnológico e o que suporta ou não esse processo. Com essa análise mais completa as empresas podem se preparar melhor, vencendo a ansiedade das decisões e criando caminhos mais prováveis para incorporar as inovações.
Expectativas versus realidade no desenvolvimento tecnológico
A inovação não se sustenta somente nas novas tecnologias, mesmo que seja instigante pensar em todo o potencial da Inteligência Artificial, por exemplo, esse hype pode gerar expectativas irrealistas. É conhecido o gráfico que compara expectativas versus realidade de novas tecnologias no tempo, as impressoras 3D, realidade aumentada e muitas outras passaram por essa curva.
Quando estamos diante do potencial tecnológico imediatamente começamos a discutir todas as possíveis aplicações que a tecnologia pode ter, em poucos minutos conseguimos construir cenários que vão se realizar 3, 5 ou 10 anos à frente. Não é possível discutir a importância e impacto que a Inteligência artificial já tem, nem a velocidade com que soluções estão sendo desenvolvidas e entrando no mercado, principalmente a partir das plataformas que foram colocadas à disposição nos últimos meses. Mas, usando esse exemplo, temos também que reconhecer que a complexidade de desenvolvimento, o custo de acesso e implementação, o nível de especialização exigido dos talentos envolvidos, a demanda por regulamentações, as preocupações com um tratamento ético ou com a privacidade e segurança, nos mostram onde realmente está pavimentado o caminho de desenvolvimento dessa tecnologia, bem distante das nossas expectativas futuristas, sejam elas otimistas ou pessimistas.
São vários os fatores que nos levam das expectativas elevadas ao “Vale da Desilusão” como mostra o gráfico de Ian Beacraft apresentado em tradução livre para ilustrar esse artigo. A velocidade, o tamanho da incoerência entre realidade e expectativa e o tempo para chegar ao plateau de produtividade vão depender da tecnologia e de interesses sociais, econômicos e políticos.
O gráfico foi apresentado por Ian Beacraft – CEO e Futurista Chefe da Signal e Cipher.
Apropriação comportamental de novas tecnologias
Os estudos sobre o processo de adoção de novas tecnologias descrevem a existência de elementos comportamentais críticos, mas ainda podemos avançar muito no entendimento de quais são esses elementos comportamentais. Tatear elementos que influenciam esse processo pode ajudar a calibrar expectativas e tomar decisões que de fato ajudam a organização a se preparar para incorporar ou desenvolver novas tecnologias.
Podemos começar separando essa apropriação em dois níveis: o coletivo e o individual.
No nível coletivo, temos as decisões políticas e econômicas, que vão depender muito do significado associado a essa nova tecnologia. A dificuldade de compreender e formar um nexo é um grande gargalo para isso. Se simplificamos demais, a insegurança do desconhecido pode tornar o processo muito mais longo. Entender as narrativas que estão sendo construídas e contribuir para visualização de cenários otimistas, favorece a construção de significados que engajam, geram interesse positivo e proatividade na solução das questões inerentes ao desenvolvimento da tecnologia.
Digamos que todo o coletivo está “resolvido” e que agora desejamos que as pessoas da organização se apropriem dessa nova tecnologia. Precisamos inicialmente reconhecer o que é esse processo, aqui descrito em 4 grandes etapas:
- Curiosidade: nessa etapa entramos no passo “sei que existe” em que tomamos conhecimento da tecnologia e vamos através de informações básicas para o “sei para que serve”. Note que são dois passos muito diferentes, eles mudam a capacidade de discutir ou de criar soluções a partir dessas tecnologias. Nenhum desses passos é suficiente para se apropriar dentro de uma organização, mas é muitas vezes aqui que as ações de comunicação e cultura param.
- Prática e Autoconfiança – nessa fase começamos a nos comportar ativamente diante da tecnologia, utilizamos e aprendemos como ela pode nos servir. É uma etapa que pode ser longa, precisamos ganhar repertório. Normalmente ela também ocorre de forma desestruturada, por tentativa e erro, gerando um processo de aprendizado que pode ser bastante frustrante, especialmente quando há pressão da organização para que seja incorporada.
- Conhecimento e prazer – nessa fase somos motivados pelos benefícios gerados e aprendemos um pouco mais, começamos a discutir e a modificar a tecnologia para nos servir ainda melhor. Isso acontece através de comunidades de prática, cursos de tecnologia, e bastante interesse. Aqui começamos a nos tornar capazes também de ensinar, apoiando o processo de quem está nas etapas anteriores.
- Conhecimento e Prazer – nessa faze estamos no saber criar, aprofundamos no conhecimento da tecnologia, muitas vezes formalizando esse aprendizado em mestrados e doutorados, fortalecendo competências técnicas, e conseguimos efetivamente fazer parte das discussões de vanguarda e da criação tecnológica.
Resumidamente, estamos propondo 4 níveis de apropriação comportamental para os indivíduos. Reconhecer em que nível as pessoas da organização estão, em cada área por exemplo, e em que nível elas precisam estar para entregar a estratégia tecnológica, nos ajuda a planejar esse processo.
Reconhecer o processo humano de aprendizado por trás da apropriação é uma forma inteligente de planejar e acelerar a transformação digital das empresas. Quanto mais sistematizamos esse processo dentro das organizações, mais fácil será percorrer as diversas ondas de transformação tecnológica que estão por vir.
Idealmente, o planejamento do processo de apropriação tecnológica pode ser feito também por governos, entidades de classe e instituições que desejam fomentar empregos e novas tecnologias, uma vez que é condição necessária para seguirmos adiante como seres humanos felizes e produtivos em um ambiente tecnológico. A ausência do processo estruturado gera uma incapacidade de se adaptar que impacta de forma global a vida das pessoas e da sociedade.